Depois da meia-noite no Rio das Cobras

Os últimos fogos ainda riscavam o céu quando a música do coreto foi perdendo fôlego. As famílias recolhiam cadeiras dobráveis, crianças sonolentas voltavam no colo, e a praça de São Brás do Pinhal cheirava a pólvora e açúcar queimado. Helena Prado, a bibliotecária, atravessou a rua com um pacote de sonhos na mão e o ouvido grudado no saldo do ano: promessas murmuradas, abraços, risos desordenados. Era madrugada de 1º de janeiro quando um grito veio do lado do rio. Não foi longo — seco, como uma coisa que se quebra.
As pessoas hesitaram; no entanto, o fluxo correu outra vez: curiosos, dois rapazes correndo, uma senhora fazendo sinal da cruz. Helena chegou à mureta do Rio das Cobras e viu o Sargento Arnaldo já lá, como se tivesse sido convocado pelo próprio barulho. Ele ergueu a fita amarela de isolamento com a mesma mão que segurava um copo de plástico de sidra. Olhos vermelhos não pelo álcool, mas pelo plantão que nunca dorme. O corpo jazia perto das pedras, a camisa rasgada, a pele marcada. O que mais chamava atenção, porém, era a mancha no cimento: uma meia-lua escura, irregular, como se a própria lua cheia tivesse escorrido para o chão.
— Voltem pra casa. Amanhã vocês vão ler tudo no jornal — disse Arnaldo, cansado.
Helena não se aproximou. Sabia reconhecer o que era da esfera dos outros. Mesmo assim, a mancha ficou gravada, como ficam certos erros de imprensa que ela corrigia mentalmente quando lia as notícias. No caminho de casa, pensou no ano anterior: livros atrasados, vazamentos no telhado da biblioteca, a Folia de Reis que sempre acordava a cidade com pandeiros e cantorias. E agora isso. Uma primeira mancha. A expressão a perseguiu até o travesseiro.

Manhã seguinte: boatos e a biblioteca
Na manhã seguinte, a biblioteca cheirava a poeira quente e desinfetante barato. O ventilador de teto girava sem vento. Helena abriu as janelas, fez o relatório de circulação automática (dois empréstimos de “Dom Casmurro”, um “Percy Jackson”, três revistas antigas de receitas) e respondeu a duas mensagens: “Vai abrir hoje?” e “Tem curso de informática em janeiro?”. Não havia jornal físico naquela segunda-feira — a redação só voltaria do recesso à tarde —, mas o burburinho da cidade cobria essa falta.
— Foi bicho, dona Helena. Certeza. Na beira do rio, assim? — disse o porteiro, encostado na porta.
— Bicho não corta assim, Benedito. Aquilo é gente. Gente que corta — respondeu a balconista da farmácia, entrando para devolver um livro sobre plantas medicinais.
Helena assentiu e passou os olhos nos recados da comunidade. Um cartaz colorido anunciava, com tinta ainda brilhante: “Baile de Máscaras — 3 de fevereiro — Salão Paroquial — Tradição de Nossa Senhora da Luz”. Havia um desenho de meia-lua com três riscos no meio. À primeira vista, ela não deu importância.
Miguel entrou perto do meio-dia. Doze anos, cabelo que sempre parecia ter sido cortado em casa, caderno na mão, a mochila com um chaveiro de foguete.
— Feliz ano, tia Helena — disse, porque tinha decidido que ela era tia, embora não fossem parentes. — Trouxe uma coisa.
Ele abriu o caderno. Dentro, recortes de jornais antigos colados com fita adesiva barata. Títulos de décadas passadas: “Tragédia na ponte”, “Menino some no mato da pedreira”, “Folia de Reis será maior este ano”. Por cima, um recorte amarelado que Helena reconheceu do tipo de papel e da tipografia: “A PRIMEIRA MANCHA”.
— Isso é de quando? — perguntou, sentindo o estômago contrair.
— Vinte e cinco anos atrás. 1º de janeiro. Também foi no Rio das Cobras. Olha a foto ruim — disse Miguel, apontando o cinza desfocado, onde mal se via uma poça escura e um par de sapatos.
Helena pegou o recorte com cuidado. No rodapé, o nome do antigo jornal: “O Pinhalense”. Ela tinha todos os volumes encadernados no porão da biblioteca, herança do bibliotecário anterior, seu Osvaldo — que organizava tudo como quem pastoreia fantasmas.
— Você tem acesso a isso? — perguntou, surpresa.
— Não. Achei no baú da minha avó. Ela recorta coisa de jornal. Diz que é pra lembrar que a cidade tem memória — falou, como quem recita uma instrução.
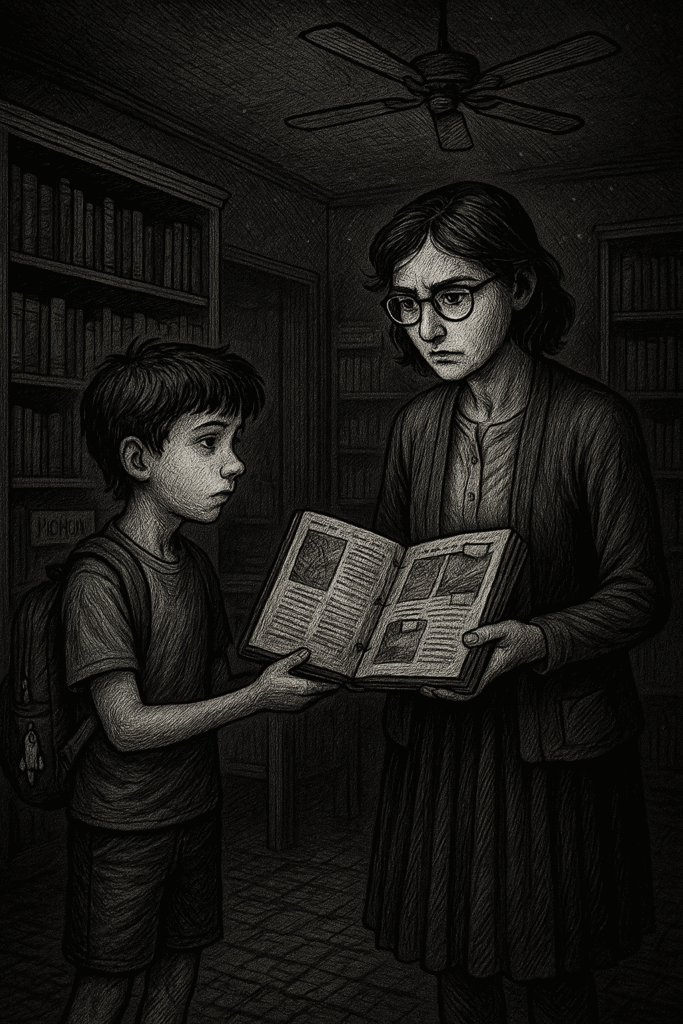
O arquivo de 25 anos atrás
Helena mordeu o lábio. Desceu ao porão com a chave grande e dois goles de coragem. O porão tinha cheiro de umidade e cola. As lombadas dos jornais alinhavam-se por ano: 1998, 1999, 2000… 2000 não, 2001 — ergo: vinte e cinco anos seria 2000 + 25 = 2025, o ano presente. Ela puxou a coleção de 2000, tossiu o pó e, com um pano, abriu na seção de janeiro. 1º de janeiro: “A PRIMEIRA MANCHA”. O mesmo título, as mesmas palavras no lead: “Após a queima de fogos, moradores ouviram um grito na margem do Rio das Cobras.”
A foto era tão ruim quanto a do recorte do Miguel. Ainda assim, alguém, talvez o velho Osvaldo, anotou a lápis no rodapé: “falar com padre Ícaro sobre máscaras (2/2000)”. Ao lado, uma gota de cera endurecida, como um selo. Meia-lua e três talhos. A mesma figura do cartaz do baile.
Ela ouviu passos no alto. Voltou com o volume nos braços. Arnaldo estava na entrada da biblioteca, acompanhado de um policial jovem que carregava a presença como um sapato novo, ainda apertado.
— Bom dia, Helena. Preciso olhar uns jornais antigos — disse o sargento, e ela percebeu no tom que ele preferia quando o mundo não pedia favores.
— Já comecei — respondeu, mostrando a capa aberta. — Olha isso.
Arnaldo ajeitou os óculos que ele usava apenas para ler, como se admitir a própria vista cansada fosse mais difícil do que admitir medo. Leu em silêncio. O músculo da mandíbula mexeu.
— Quem mais viu isso? — perguntou.
— Eu, agora você, e um menino que coleciona recortes. O Miguel.
— O filho da dona Lurdes da feira? — o sargento tentou compor normalidade. — Essa cidade precisa de menos gente intrometida e mais gente ocupada, às vezes.
— Ou o contrário — Helena devolveu, porque gostava de cutucar o lugar onde a ironia do mundo coça.

Marcas de cera e a pista do padre Ícaro
Arnaldo respirou fundo.
— A gente encontrou umas marcas… diferentes. Não é cachorro. Não é porco-do-mato. Tem corte limpo e arranhão. Mistura errada — disse, sem olhar para ela, como quem fala consigo. — E cera. Cera no mato. Como se alguém tivesse rezado ou marcado alguma coisa.
— A foto do jornal tem cera — Helena apontou a gota endurecida. — O Osvaldo anotou “falar com padre Ícaro sobre máscaras”.
— Máscaras? — o policial novo repetiu, baixo, como quem teme chamar coisa que não conhece.
— Fevereiro tem carnaval. A paróquia faz um baile antigo, com máscaras de papel machê que o pessoal guarda como se fosse herança. Minha mãe já me levou quando eu era criança — explicou Helena. — Mas essas anotações… alguém ligou uma coisa a outra, há vinte e cinco anos.
— Padre Ícaro tá na organização da Folia de Reis semana que vem. Vou falar com ele — disse Arnaldo, dobrando e redobrando o cansaço em postura.
Miguel esperava do lado de fora, fingindo olhar para o celular. Quando Arnaldo saiu, ele entrou num pulo.
— E aí?
— Tem mais coisa no porão do que poeira, Miguel — respondeu Helena. — E você precisa parar de ficar à espreita ouvindo conversa de adulto.
— Não tava ouvindo. Tava esperando. É diferente — rebateu, e sorriu, porque sempre achava uma frase para existir.
Helena passou a tarde inteira com os jornais. Em 2000, depois da “primeira mancha”, vieram colunas de opinião pedindo mais policiamento, uma matéria sobre cães soltos, uma entrevista com o padre Ícaro defendendo as tradições e, em fevereiro, muitas fotos do baile de máscaras no salão paroquial. Helena ampliou uma, usando o scanner antigo da biblioteca: máscaras longas, nariz pontudo, brilho barato. No canto da imagem, um adereço preso ao braço de um dos foliões: uma meia-lua com três riscos.
— Símbolo da Nossa Senhora da Luz, não é? — perguntou Benedito, espiando por cima do ombro.
— Parece. Mas nunca vi com esses três talhos. É como se alguém tivesse… ferido a lua.
Às quatro da tarde, Cecília, a jornalista local, apareceu com o cabelo preso e um cheiro apressado.
— Você viu, né? Todo mundo viu. Preciso de fala de “figura respeitada”. Você topa? Bibliotecária tem cara de confiável — metralhou, abrindo o bloco.
— Não sou perita. E não vou virar cota de credibilidade — Helena devolveu com calma. — Procura o sargento.
— Ele não fala. O padre fala demais. Tenho que fechar essa matéria hoje pra subir o site — Cecília suspirou, e seus ombros denunciaram a ambição que dormia leve. — O povo quer palavra: “lobisomem”. Dá clique.
— Escreve “cidade assustada, investigação em curso, tradição não explica sangue”. Vai dar o mesmo clique e menos mentira — disse Helena, devolvendo o jornal.
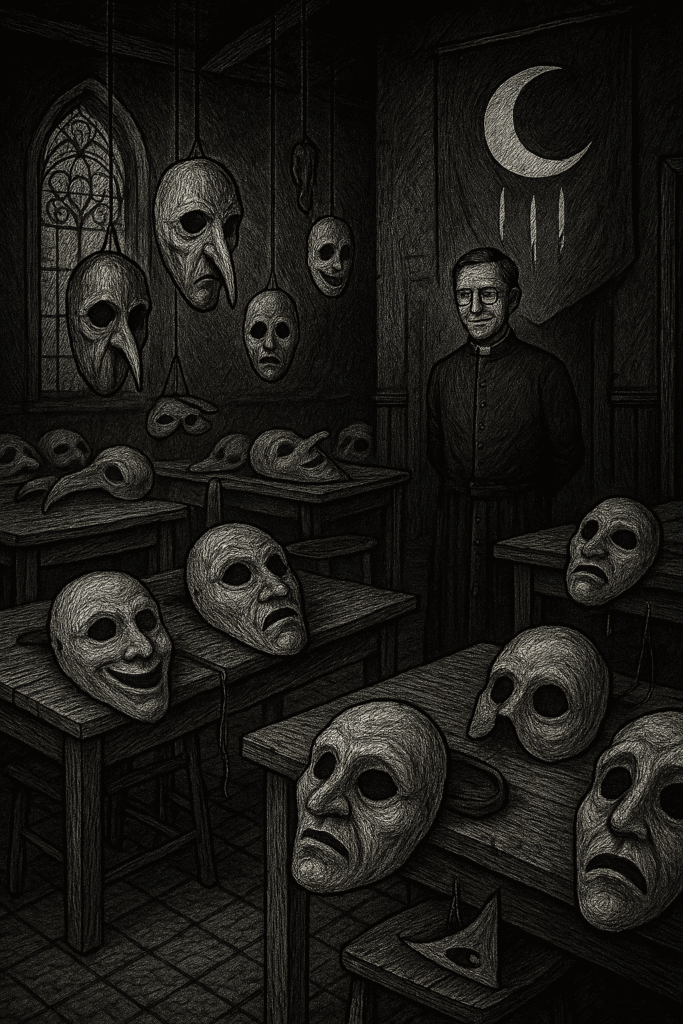
O bilhete no muro: “o calendário começou”
Cecília anotou “tradição/sangue” e foi embora. Helena fechou a biblioteca no horário, mais por ritual do que por vontade. No corredor de casa, uma caixa de coisas da mãe — que tinha se mudado para morar com uma tia — repousava aberta: rendas, fitas, fotos de escola, um folheto dobrado. Ela puxou o papel: “Baile de Máscaras — 3 de fevereiro de 2000 — Nossa Senhora da Luz”. No canto, a mesma lua com três riscos. Atrás, um bilhete escrito pela mãe: “Guardar para Helena — você ficou linda de máscara azul.”
Helena sorriu, tentando que a lembrança apagasse a mancha. Contudo, não conseguiu. Pegou o celular e mandou mensagem para Miguel: “Amanhã, 9h. Vamos ao arquivo paroquial.”
Não dormiu cedo. O barulho da Folia de Reis — ensaio antecipado, talvez — atravessou a rua como formigas cantoras. Por volta das duas, o telefone tocou. Era Arnaldo.
— Desculpa a hora. Achei melhor te avisar do que você ler por aí. Apareceu outra coisa — disse ele, a voz elétrica.
— Outra vítima? — Helena sentou na cama num salto.
— Não. Um bilhete colado no muro da ponte, com cera. Diz: “o calendário começou”. E o selo… você adivinha.
Helena não respondeu; afinal, a lua não estava cheia, mas parecia gordurar-se de luz como quem se prepara. Uma coisa antiga se mexeu dentro do peito. Não medo; um reconhecimento incômodo.
— Arnaldo, você já falou com o padre? — perguntou.
— Falo amanhã cedo. Se ele não tiver ocupado ensaiando figurino — o sargento rosnou, e desligou.

Ensaio de máscaras e a próxima lua
Apesar disso, a cidade amanheceu com a capacidade eficiente que as cidades têm de fingir que nada aconteceu. A feira vendeu frutas, as crianças brincaram no chafariz, e a igreja anunciou a missa com o mesmo sino de sempre. Helena e Miguel subiram a escadaria da Matriz. O ar dentro do salão paroquial cheirava a cola, tinta e tecido guardado. Sobre mesas de madeira, máscaras de papel machê secavam como rostos à espera.
— É tradição antiga — disse o padre Ícaro, surgindo com um sorriso treinado. — Ajuda as pessoas a serem outras por uma noite. Às vezes é tudo que precisamos para aguentar o resto do ano.
— Quem desenhou esse símbolo? — Helena perguntou, direta, apontando a meia-lua com três riscos estampada num estandarte.
— A lua de Nossa Senhora da Luz. Os três riscos são raios. Há séculos usamos — respondeu o padre, sem hesitar. Mas seus olhos evitaram os de Helena por um segundo a mais do que o necessário.
— E a cera no rio? — Miguel entrou no assunto como quem atravessa uma rua vazia: sem olhar pros lados. — Tinha cera. Igual a essa, ó — mostrou os dedos manchados; havia um pingo de vela embaixo da mesa, recém-caído.
Ícaro sorriu outra vez, agora com os dentes.
— A cera é de igreja, meu filho. Igreja é lugar de vela. E a cidade inteira é igreja quando precisa.
Helena anotou no caderno. O padre falou sobre ensaios, música, segurança, pediu que não associássemos “celebração bonita” com “violência feia”, agradeceu a visita e nos conduziu até a porta. Ao lado do quadro de avisos, um cartaz do baile de 2000, antigo e amarelado, estava emoldurado: “Para lembrar os bons tempos”, dizia um post-it.
Na saída, Miguel cutucou o braço de Helena.
— Olha a data — sussurrou.
“3 de fevereiro de 2000”.

— E agora? — perguntou o garoto.
Helena olhou a praça. O coreto estava vazio, mas acumulava ecos. Lembrou-se da nota a lápis no jornal: “falar com padre Ícaro sobre máscaras (2/2000)”. Um ciclo. Um calendário.
— Agora a gente procura as fotos desse baile — respondeu. — Todas. As de vinte e cinco anos atrás e as de agora. Se tem coisa que a cidade não sabe, a imagem entrega.
Miguel assentiu. Desceram a escadaria e seguiram rumo à biblioteca. Em seguida, um vento pegou o cartaz novo do Baile de Máscaras e o virou contra a parede. Alguém tinha rabiscado três talhos sobre a meia-lua, mais fundos, como se quisessem abrir a noite em fatias.
Helena guardou o cartaz molhado na bolsa. Quando a campainha da biblioteca tocou, era Cecília com a câmera pendurada.
— Três da tarde, ensaio das máscaras no salão. Vocês vão? — perguntou, tentando esconder a excitação.
— Vamos — disse Helena, e sentiu a cidade colocar um rosto por cima do rosto.
No relógio, a segunda-feira se ajeitava no ritmo do expediente. Por fim, a sensação era de que São Brás do Pinhal já vestia fantasia. E que o mês seguinte começaria onde este terminava: com máscaras.
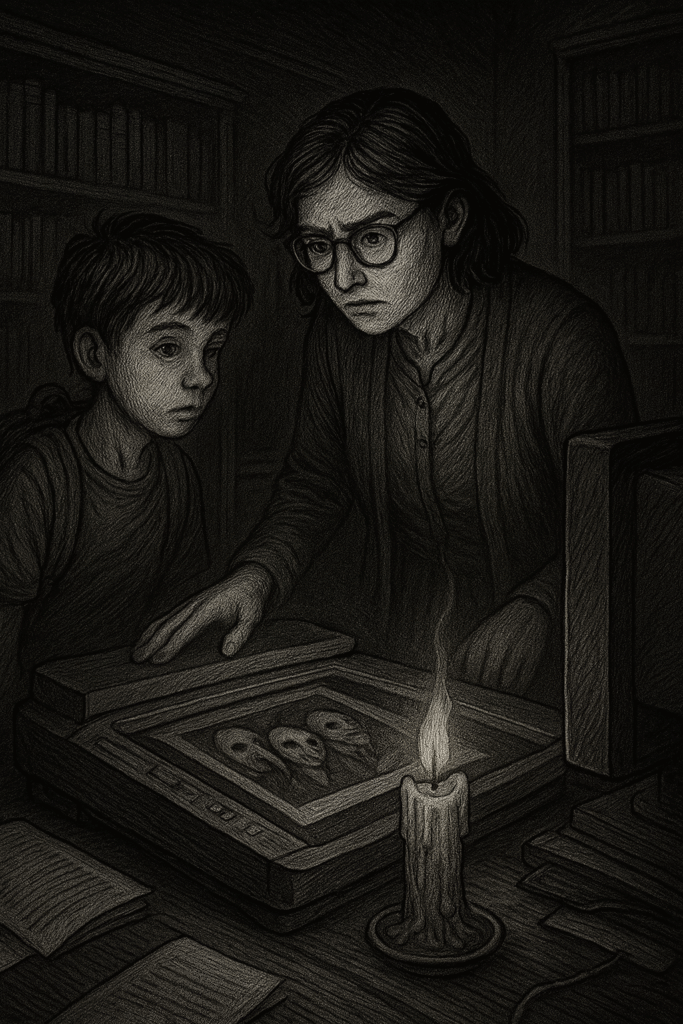
🌕 Próximo Uivo
Doze Luas de Sangue é uma série em 12 capítulos — um por mês, sempre na semana da lua cheia. A cada episódio, uma nova pista, um novo ritual… e um uivo mais alto.
Se a “Primeira Mancha” te fisgou, não perca o Capítulo 2 — Fevereiro: Máscaras.
- 📨 Assine a newsletter para ser avisado quando o Capítulo 2 sair.
- 🔔 Ative as notificações do site.
- 💬 Comente sua teoria abaixo.
- 📤 Compartilhe com quem leria à luz da lua.



Pingback: Jujutsu Kaisen: 7 Motivos Para Ler o Mangá Nº1 de 2025
Pingback: 6 Livros Para Começar a Ler Brandon Sanderson Agora
Pingback: 12 Histórias Sombrias Incríveis para o Halloween de Leitura